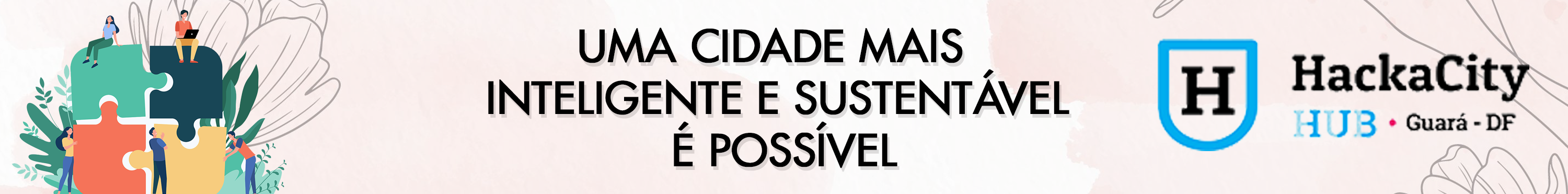O ano? 2005. Após subir ao palco do Cine Brasília com equipe e tudo para apresentar “O Veneno da Madrugada”, que concorria na Mostra Competitiva do 38º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o veterano cineasta luso-brasileiro Ruy Guerra – um dos baluartes do movimento Cinema Novo –, foi categórico quando resumiu, numa frase, a importância do evento: “é um espaço de liberdade que temos a obrigação de preservar”.
Resultado das mesmas ideias efervescentes e modernistas que deram origem à própria cidade de Brasília e aos “cantinhos” do saber, como a Universidade de Brasília (UnB), ninho da mostra mais antiga do país, o FBCB se tornou vigoroso palco de resistência contra a censura e a luta pela sobrevivência do cinema brasileiro. Neste ano, em decorrência da atual crise sanitária, sua 53ª edição será realizada entre os dias 15 e 20 de dezembro, com exibição pelo Canal Brasil e pela plataforma de streaming Play Brasil.
Ao menos três episódios ilustram a condição de bravo guerreiro do festival diante da “opressão do sistema”, para citar uma máxima do cineasta baiano Glauber Rocha. Um deles, com sequelas traumáticas para realizadores, público e classe artística, foi o cancelamento do encontro por três longos anos no início dos anos 70, no auge da ditadura militar. O pivô desse episódio dramático seria o documentário “O País de São Saruê”, de Vladimir Carvalho (foto), arrancado da competição e censurado por quase uma década, no ano de 1971, durante a realização da sétima edição do Festival.
“Os anos de 1969, 1970 e 1971 foram complicadíssimos por causa do recrudescimento da censura (pós-AI-5, decretado em 13-12-1968). Com o ano do Sesquicentenário da Independência (1972), o ufanismo tomou conta do país”, analisa a jornalista e pesquisadora Maria do Rosário Caetano, autora de “Festival de Brasília 40 Anos – A Hora e a Vez do Filme Brasileiro”. “E um festival que era uma tribuna da liberdade de expressão e manifestação ficou sem espaço”, lamenta.
Em Brasília desde 1969, quando participou do festival com o curta “A Bolandeira”, Vladimir Carvalho (foto) sentiu na pele o peso da mão da censura com a retirada de seu primeiro longa-metragem do festival. “Comecei a fazer esse filme em 1966, procurava recompor um cenário que, de certa forma, ainda existe, que são as relações de classe”, contaria, anos depois, o velho conterrâneo de guerra. “Bom, fazia poucos anos do AI-5, as pessoas vaiaram perigosamente, houve quebra-pau fora no cinema, com gente atirando bolinha de gude nas autoridades e tudo o mais. Deu que o Festival de Brasília seria interditado por três anos”, lastima.
Com texto do dramaturgo Plínio Marcos e atuações, entre outras, de Jô Soares, o drama “Nenê Bandalho”, dirigido por Emílio Fontana, seria outra vítima da foice cega e leviana da ditadura militar. Na trama, as memórias delinquentes de um serial killer indignado com as injustiças sociais. Então um guri de 15 anos com calças curtas e visão, como ele mesmo admite, “naïf” da vida, ou seja, ingênua, o hoje professor e crítico de cinema Sérgio Moriconi presenciaria uma cena para lá de pitoresca: o dia em que o rei Pelé seria esmagadoramente “vaiado” por uma plateia de 1.200 pessoas. A cena aconteceu no extinto Cine Atlântida, durante a exibição do documentário “Brasil, Bom de Bola”, de Carlos Niemeyer, filme escolhido para substituir “O País de São Saruê”.
“O lugar estava cheíssimo. O filme, a maioria com jogadas do Pelé contra seleções maravilhosas, como a da Copa de 70, era quase uma ode ao rei e, de repente, o cinema inteiro veio abaixo numa vaia monumental”, recorda. “Fiquei impressionado e pensava: ‘ué, porque estão vaiando o Pelé’? Só depois fui entender que aquela plateia lotou o Cine Atlântida para se posicionar contra a censura do filme do Vladimir e do filme do Nenê Bandalho”, comenta.